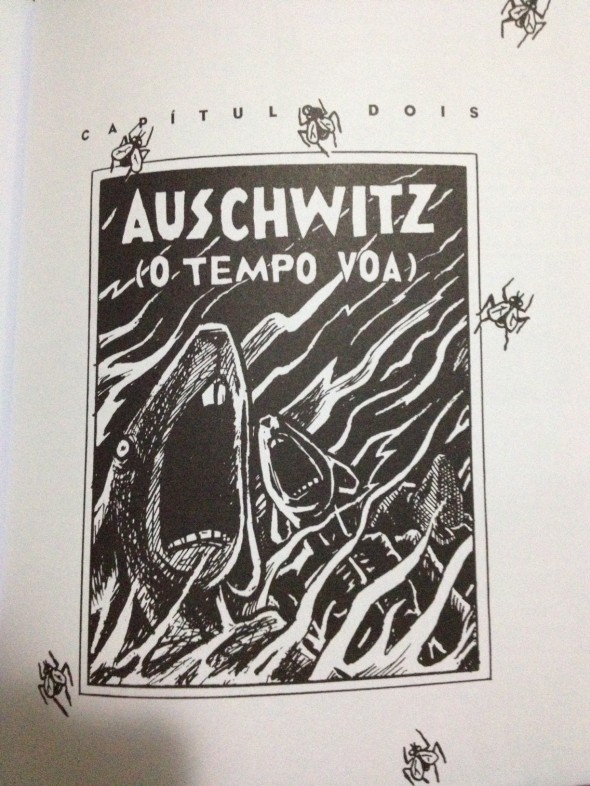Il nuovo sogno ricordato
Camminavo su la spiaggia sotto il sole forte e delizioso. La luce accarezzava mia pelle e il vento mormorava il momento. Mi sono sdraiato nella sabbia giù, e il mare ha bagnato miei piedi. È un bello giorno, ho pensato. Quando stavo dormindo nel sogno, subito, miei gatti mi svegliano nel letto. Vado tornare a dormire.
Ma prima, ho pensato così: “da tanti tempo no scrivo sul miei sogni. Perché no li ricordo più? Magari, dopo dormire, se ancora ricordare di loro, scriverei qualcosa”. Raccontare il sogno è un esercizio letterario che fa con che l’immagini diventino in parole. Mai sarà proprio il sogno, ma neanche sarà solo letteratura.
Caspita! Sono svegliato e ricordo dei due sogni e adesso scrivo.
Como elaborei “meu” Hayden White…
Hayden White faleceu esta manhã aos 89 anos de idade. Sinto que perdi um colega de trabalho, pois sempre encarei os livros e autores como colegas. Na minha primeira disciplina de Teoria de Historia, logo que entrei na UFRN em 2009, passei para os meus alunos a leitura de A Interpretação na História, capítulo de Trópicos do Discurso de Hayden White. Havia começado a ler intensamente o autor um ano antes, embora conhecesse as ideias dele há muitos anos. Na realidade White havia sido apresentado para mim diretamente em um minicurso ministrado por Durval Muniz intitulado História e pós-modernidade, em 2001, mas confesso que não havia lido justamente o texto tratado por Durval, e que era justamente A Interpretação na História. Foi na época do mestrado, já na UNICAMP, entre 2003 e 2005, que li White com mais atenção, principalmente para compreender sua teoria da narrativa e ter um contraponto ao uso que eu fazia da hermenêutica narratológica de Ricoeur. Mas até aquele momento o autor era pura mitologia nos textos daqueles que dele falavam.

Essa mitologia é um pouco o tema teste texto, que no fundo, trata sobre como foi recebida a obra de White no Brasil? Ainda que as traduções sejam mais antigas e sua visita ao país nos anos 1990, convidado pelo CPDOC, não possa ser esquecida, bem como a recepção generosa às suas ideias na UNICAMP, prefiro falar do ponto de vista das minhas impressões como historiador que se formou em um curso de história periférico no Piauí entre 1998 e 2002. Desde 1998 conhecia a famosa divisão dos paradigmas de Ciro Cardoso entre o paradigma iluminista e o paradigma pós-moderno, enunciada na abertura de Domínios da História (1997). White estava ali ao lado de Derrida, Ricoeur, Foucault, Benjamin e tantos outros. A divisão artificiosa de Cardoso – pouco depois nuançado num livro dele muito bom e subestimado (mas não menos ácido) chamado Narrativa, sentido, história (1997) – criava, junto ao minicurso de Durval, o mesmo movimento: White chegava para mim sob o signo do pós-moderno.
Essa mediação foi um problema, pois o campo historiográfico brasileiro possuía poucos intérpretes teóricos eficientes e muitos achismos no que ser refere a obra de White. Digo problema porque os irracionalistas/pós-modernos eram tão diversos entre si que não conseguia – quando comecei a ler lê-lo com atenção em 2003, já quando fazia o mestrado – encaixar a singularidade de White com aquelas aproximações: (a) enquanto Deleuze, Derrida, Foucault e cia eram anti-representacionais, anti-narrativos e anti-hermeneutas – digamos de forma vulgar e generalizada que para aqueles autores, a representação seria um efeito de discurso e contenção da expressão e do sentido; a narrativa era protocolo do poder e veículo precário de representação; e a hermenêutica era a imposição à leitura nas quais os textos deveriam dizer o que queria o sistema hermenêutico do intérprete (marxismo, psicanálise, fenomenologia, etc.) sendo a alternativa à interpretação a descrição – , para White a narrativa não era uma coisa ruim, mas um mecanismo de articulação de sentidos e expressões, as representações eram possibilidades de construção imaginativa do mundo e a interpretação podia descrever um texto em seus níveis mais elementares sem impor-lhe significado; (b) White era um crítico dos excessos do absurdismo discursivo que era tão atacados também pelos “antipós-modernos”; (c) seus textos funcionavam como uma história da história com largo esforço contetxualizador e descritivo dos quais Metahistory permanece o maior exemplo, e não era apenas uma análise das obras de historiadores e filósofos como literatos.

Mas as leituras apressadas criaram generalizações pouco uteis para o amadurecimento do debate. Pós-moderno, irracionalista e dono da tese (jamais dita por ele) de que a história era igual a literatura (história=literatura=ficção), White foi capitalizado pelo que não disse e sua individualidade como historiador ficou prejudicada. A polêmica com Ginzburg – que no Brasil ganhou fama de um grande debate intelectual, sendo que fora dali nunca o fora – é um dos exemplos. Podemos acrescentar a discordância de Ciro Cardoso, Jurandir Malerba, Francisco Falcon entre outros. Era preciso defender-se da “ideia central” de White como se ela fosse também um problema ético. Aliás, defesa, no sentido de uma economia psíquica, parecia a palavra mais adequada para entender a relação dos historiadores com a obra de White.
Lembro de uma conversa, no finado Orkut, em que um excelente debatedor na comunidade “Teoria da História” (!!!) dizia que se White não tinha dito que história=literatura=ficção ele não deixara isso claro e contribuíra para a confusão (!?!). Bem, qualquer leitura mais atenta das obras dele já desmentiria aquilo, e eu, coincidentemente, só ouvia/lia aquele tipo de sentença da parte dos defensivos. No Brasil havia dois ou três artigos e dois livros traduzidos (Metahistória e Trópicos do Discurso), poucos estudos e muitos comentários, a maioria defensivos. Os poucos bons comentadores já traduzidos (estamos falando daquele hiato entre 2000 e 2009) eram pouco lidos ainda (Ricoeur e Rüsen), dos grandes interlocutores de White a tradução era quase zero (Dominick LaCapra, David Harlan, Frank Ankhesmith, Hans Kellner, etc.) e a maioria dos comentários eram diagnósticos visando responder aquele grande medo de se a história era ou não era literatura. A reação à falsa tese de White foi severa, o grau de leitura ruim (não eram casos de misreading) alto, que a caricatura emergia. A marca da relação a White era a iconoclastia: ele era um produtor de ídolos e deveria ser denunciado como tal.
Já os bons leitores brasileiros de White como Edgar De Decca, Margareth Rago, Durval Muniz, Manoel Salgado não produziam material efetivo sobre ele e o tomavam mais como um interlocutor para outros problemas. Obviamente ninguém precisava fazer um estudo da obra de White e de suas ideias e aqui apenas aponto como me parece que se formou um quadro de leitura desorganizada de sua obra. Curiosamente, era evidente também que todos, ao tentarem usar ou responder a White, tomavam como pressuposto aceitar que a narrativa/representação/imaginação ocupava um papel central no conhecimento histórico e se precisava saber o que ela era. Evidentemente os detratores adoravam atacar, em White, mais as teses dos tropos do que a do enredamento (pouco conhecida, aliás, porque quase nada foi traduzido no Brasil) – embora desde Metahistory fique claro que os tropos funcionavam no enredamento.

Seja contra os tropos ou contra a narrativa como protocolos linguísticos, a resistência à tese história=literatura=ficção era um mote no qual a narrativa saltava como um “retorno do recalcado”. Sintomático, por exemplo, que a melhor resposta de Cardoso tenha sido convocar David Carr para dizer que a narrativa não é protocolo linguístico, mas forma cognitiva. Contudo, neste caminho todo, entre 2003 e 2009, cada vez mais eu cruzava com autores na história da arte, nos estudos de cinema e nos estudos pós-coloniais que mencionavam White. Ficava evidente que havia algo mais na tropologia e na narratologia do que se gostava de admitir na historiografia. Foi nessa zona cinza que me tornei seu leitor e encontrei nele um importante interlocutor, menos sobre o que ele tem a dizer sobre a historiografia e mais sobre as metáforas, figuras e narrativas nas mídias que tomei como objetos de pesquisa e de aula.
Hoje, em 2018, vinte anos depois que ingressei na graduação em História, a centralidade da narrativa foi aceita tanto para os defensores da “história como arte” como para os da “ciência da história”. À importância da “fase documental” na pesquisa histórica, hoje mais valorizada do que nunca, uma vez que temos que lidar com os falsificadores fascistas da história, adicionou-se a importância da narrativa no saber historiográfico. Evidente que isso não é mérito de White, creio que se deve a muitos fatores como a importância crescente da memória, a proliferação de objetos e mídias na pesquisa histórica, e a reconfiguração do campo sobre a teoria da história e história da historiografia no Brasil. Contudo, o campo de debate acabou se movendo tambem por causa dele.
Como dito acima, White viera ao Brasil trazido pelo CPDOC ainda nos anos 1990, retornando vinte depois, em 2013 pela organização do evento 40 Anos de Metahistory – o qual gerou o livro Hayden White: cuarenta anos di Metahistoria – organizado por Julio Bentivoglio e Veroniza Tozzi, na UFES, em Vitória -ES, ocasião na qual fui ouvi-lo. Naquele momento ele foi um encanto e muito generoso com todos. Havia deixado de ser uma invenção discursiva que consta na capa dos livros ou um nome destratado nos textos dos iconoclastas. Tenho uma foto com ele e um amigo, Clovis Gruner. No silêncio e solidão da leitura ele sempre foi um excelente interlocutor. White é dos meus autores favoritos, mas com o qual raramente concordo. Tenho vários destes colegas, aqueles que pela discordância nos fazem melhores do que o marasmo dos que nos dizem o que já sabemos. Desejo a paz e que o Orum o receba na festa dos orixás…
Filho de Saul e as imagens escondidas da história
Começo dizendo que para Filho de Saul tenho duas impressões: a primeira – de gosto – é que não me afeiçoei ao filme, embora tenha achado o princípio e a encenação bons, acho que os recursos se esgotam rapidamente e a fita fica enfadada; a segunda, é que apesar desse esgotamento, acho que a fita trás uma importante questão sobre o que o cinema tem feito com a memória dos campos de concentração e de extermínio. A partir daqui este texto tem vários tópicos nos quais irei passear entre a primeira e a segunda impressão que tive.
***
Poucos temas são tão cinematográficos quanto a solução final, mais conhecido como holocausto – prefiro realmente a expressão “Shoah” (catástrofe) pois afasta as conotações sacrificiais do termo “holocausto”. Constituindo quase um semi-gênero, os filmes sobre a Shoah reverberam a presença dos judeus na mídia contemporânea e a produção de uma identidade judia pelo negativo (construída na sombra do extermínio racial, real e histórico) criaram referências padrões nos quais as cenas de humilhação, sofrimento, morte, tortura, abuso, assédio e todas as formas afins têm seu lugar como episódios cinematográficos de inúmeras nacionalidades: Noite e Neblina (1959), Shoah (1985), A Escolha de Sofia (1982), A Lista de Schindler (1993), O Pianista (2002), O Menino do Pijama Listrado (2008) para citar apenas alguns.
Filho de Saul deve, portanto, responder a uma tradição que frequentemente abusou da vitimização, do melodrama e da morte e cuja oposição básica poderíamos compor entre o muito criticado e absurdamente assistido A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, e o muito elogiado, mas pouquíssimo visto Shoah, de Claude Lanzmann. O primeiro abusa do sofrimento e da reconstituição de época, o segundo evita a documentação, a reconstituição e se fixa nos testemunhos dos sobreviventes. Filho de Saul é uma fita histórica, que faz uma reconstituição do horror do campo de extermínio de dentro dele: a câmera, presa nos ombros de Saul, o acompanha por quase todo o filme em uma sequência de atividades no campo. Ele é um sonderkommando, um judeu que fora escalado pela SS para ajudar na condução, limpeza e manutenção do funcionamento do campo. O expediente claustrofóbico mantêm o espectador junto do personagem e evita momentos de respiração. Nunca vemos o céu senão como um relance nas poucas cenas em campo aberto, ou mesmo os corpos são mostrados em fragmentos sendo carregados, vasculhados, limpos, queimados ou etc..
A fita evita o plano de conjunto, não usa da panorâmica, quase tudo está no primeiro plano ou num plano americano mal comportado. Vez por outras surgem close-ups. Preso no quadro, o espectador, tal como Saul, não tem descanso e deve ter a rotina do campo como seu itinerário. No início este recurso causa estranhamento. Quando se repete a rotina de limpeza das câmeras de gás pela primeira vez ele fica fascinante. Mas por volta de 40 minutos o expediente se esgota e vira maneirismo, quando cansamos da brincadeira porque ela não parece capaz de entregar mais nada senão sua própria claustrofobia. É quando Filho de Saul perde a força e esperamos que a história nos revele algo que a câmera parece já incapaz de fazer. A fita fica chata e enfadada, mas não deixa de ser interessante de se ver.

Tudo isso para resistir ao impulso da representação fidedigna ao passado, ainda que o diretor húngaro Làsló Nemes não possa se furtar a representar o passado – por isso escolheu entregá-lo como fragmentos de cenários. Filho de Saul é uma estória sobre como um homem cuja humanidade fora sugada adota uma criança que sobrevivera ao gás da câmera, mas que logo foi morta por um médico alemão. Saul adota na verdade seu cadáver e decide que seu último gesto de individualidade, uma vez que ele também morrerá, será enterrar o “filho”. Numa metáfora assustadora, será o sepultamento digno com o ritual adequado, quem devolverá ao menino sua existência como pessoa e a Saul a sua como homem.
Saul passa a desafiar todas as possibilidades para conseguir um rabino capaz de entoar os cânticos funerários, chegando inclusive a quase ser morto pelos SS. Ele e seus companheiros têm um rabino entre si, mas este se recusa a enterrar o menino, o que motiva Saul a buscar outro. Ele se envolve com os judeus chefes do soonderkommando e descobre que preparam uma rebelião. Um deles lhe promete um rabino se ele ajudar a conseguir um material que será usado na revolta. Saul aceita como quem não aceita, pois não tem dúvida sobre seu destino fatal. No final, atravessando um rio, o corpo do rapaz é levado e Saul não consegue completar seu único gesto de existência como pessoa.
O macabro de usar um símbolo do renascimento e da esperança – a criança – marca como Filho de Saul tenta desafiar o lugar comum da memória do holocausto: o menino fora sobrevivente de uma câmara de gás, depois foi morto por médicos, enfaixado e “mumificado” por Saul e termina tragado por um rio. Làsló Nemes trabalha com metáforas silenciosas o acinte que fora a Shoah. Um aspecto já apontado na fita de Spielberg é aqui reforçado: a destruição da memória dos judeus deve ocorrer até pelo sepultamento negado. Não por acaso, Saul encontra outro rabino entre os judeus que jogam as cinzas de seus iguais num rio. A cremação era um apagamento de dados/pessoas, tal como a destruição dos documentos dos judeus. Seus corpos foram queimados e suas cinzas jogadas nas águas para que jamais se encontre prova de suas mortes. Não se trata apenas de matar, é preciso apagar os traços e fazer com que as pessoas desapareçam da memória, que sejam levados como quase nada pelo rio do tempo.
Um traço importante em Filho de Saul é transformar os judeus em agentes de sua própria história, na medida em que mostra dois ou três lados de uma mesma situação: a colaboração em prol da própria sobrevivência dos sonderkommando; a resistência silenciosa de Saul, ainda que conformado com o próprio destino; e a rebelião judia contra a SS no campo de extermínio. Raramente o cinema ressaltou este elemento e Làsló Nemes escolheu relativizar o aconteceu com os judeus no leque das microscópicas/miseráveis possibilidades que lhes eram possíveis.
A ideia de uma rebelião em Campo demonstra uma quebra do excesso dos abusos típicos do cinema no retrato das dores dos campos de concentração e de extermínio. Não se entenda com isso não que haja justiça na representação da Shoah com o foco na dor da vítima! O genocídio perpetrado pelos nazistas foi um crime contra a humanidade e os judeus foram as mais numerosas vítimas de uma das mais apavorantes práticas de assassinato da história humana. Filho de Saul explorou a tentativa de resistência para romper o excesso dessa identidade pelo negativo, que constrói uma memória universal para os judeus do mundo inteiro como sujeitos traumatizados pela sobrevivência de um genocídio.
Uma marca fundamental da sobrevivência frequentemente é a culpa: culpa por sobreviver, por não estar entre os que morreram, por agradecer estar vivo e por ser portador de tal memória. Há uma vergonha social e pessoal nessa memória que confere uma identidade negativa, marcada pela dor e tragédia coletivas. Filho de Saul propõe um lampejo nessa memória, ainda que aceite a inevitabilidade da história, afinal todos sabemos como terminou.

- Umas das fotos que teria sido tirada clandestinamente de um crematório de prisioneiros húngaros. Fonte: The Auschwitz crematorium in operation, photograph by Sonderkommando prisoners August 1944 © www.auschwitz.org.pl
Fica em minha memória a discreta cena na qual Saul e outro prisioneiro tentam tirar fotos do momento em que corpos são queimados. O objetivo é contrabandear a câmera com as fotos para que elas sirvam como prova do que estava acontecendo e algum exército venha libertá-los. Durante a tentativa de tirar as fotos, aproximam-se soldados e a câmera fotográfica é guardada num encanamento qualquer para que os SS não a tomem. O filme não mostrará mais a câmera, que será esquecida pela narrativa. Seriam fotos de cremação.
Existe um farto material visual de campos de extermínio e concentração após a libertação, mas fotos de cremação eram desconhecidas até menos de duas décadas. Na exposição Mémoire des camps. Photographies des camps de concentration et d’extermination nazis (1933-1999), realizada em Paris, entre 12 de janeiro e 25 de março de 2001, foram apresentadas quatro fotos inéditas de 1944, tiradas clandestinamente por um membro do Sonderkommando. Segundo a reconstituição arqueológica feita posteriormente, duas das fotos mostrariam a cremação em fossa de incineração ao ar livre de judeus húngaros.
Filho de Saul parece remeter a estas fotos reveladas tardiamente, depois que a quase totalidade dos sobreviventes dos campos morrera, fotografias de uma máquina escondida nas entranhas dos esgotos do filme/história, fotos jamais vistas por aqueles que a tiraram e prova amaldiçoada da miséria humana que sobrevive ao tempo.
Terrível é a palavra non: Oliveira e a ardência do passado
Pode a história ser vista? Pode o passado ser entregue como imagem e não mera simulação? Todo filme documenta antes de tudo o ato de sua própria feitura. Fazer um filme histórico é um registro do ato humano de tentar ver o passado como imagem e não apenas de elaborar imagens a partir do relato histórico tal como ocorre quando escrevemos ou lemos um texto de história. Manoel de Oliveira sabe como poucos como fazer filmes para quem toda a trama está baseada no estranhamento da fita com o próprio espectador. Por vezes, é formidável sua capacidade de fazer-nos estranhar mais do que a fita, mas o seu tema. Cada plano, repito sempre esta sua frase, é um risco, no qual o mundo é visto como imagem. Non ou a vã glória de mandar, fita de Oliveira de 1990, é destes filmes que pensam a história como um risco humano e cinematográfico.
Non é um dos filmes dos filmes, que nasceram para ser ousado e gigante, um épico histórico no sentido antigo e um filme oliveiriano no sentido de sempre. Como chamou atenção o ator Luís Miguel Cintra, em Non, nenhum personagem de Oliveira é um personagem com profundidade, mas é mais um carácter de um diálogo filosófico. Non é um dos antecessores de Um Filme Falado, uma destas fitas em que as personagens são vozes de um diálogo reflexivo no sentido renascentista do termo, as quais, mais do que pessoas reais, são pessoas-tipos. O pensamento, está claro, só advém da meditação e a meditação implica em pausa, calma e abandono de si. O grande personagem a meditar precisar estancar. Assim são os personagens de Non.
E sobre os personagens de Non meditam? Sobre a história em primeiro lugar! Sobre Portugalem seu sentido mais íntimo, em segundo mas não menos importante! Pensar em Oliveira me lembra outro cineasta que tanto amo, o falecido Angelopoulos para quem olhar a Grécia era pensar sua história. Aliás, que soberbo este empreendimento o Oliveira de sempre pensar seu país a partir da imagem /verbo da história e do passado. Ele sempre volta à nação, cujo coração mostrou como um anjo em outro filme delicioso sobre a história, no qual ele e sua esposa aparecem como vasculhadores do passado: Cristovão Colombo – um enigma.
Non apresenta 5 episódios da história portuguesa, todos observados pelo estigma da derrota e da irrealização do sonho histórico: o primeiro, a partir do qual o filme é organizado e que o encerrará, é a estada do Alferes Cabrita (Luís Miguel Sintra) num comboio militar junto com muitos soldados portugueses em Angola. Os outros quatro episódios são narrados pelo próprio Cabrita aos seus companheiros, ele um historiador e filósofo da história e são retratados no filme: o assassinato do ancestral português Viriato em 139 d.C.; a morte de D. Afonso em 1490; a viagem de Vasco da Gama à Índia; e o desaparecimento de Dom Sebastião na batalha de Alcácer-Quivir em 1578. A partir deles, Non mostra o inusitado de uma nação conquistadora e reprimida pela história, marcada pelo desejo de expansão e pela construção do inferno colonial, maior glória é o legado. Como afirma Cabrita: o que se dá é mais importante do que o que se tira do encontro dos povos. Mas há uma leve ironia nesta expressão ao se lembrar que os portugueses e os europeus em geral deram aos povos do mundo, junto com seu espírito, o céu e o inferno.
A contradição continua em soldados numa guerra colonial africana enquanto discutem o amargo do passado. Estariam eles próprios condenados à derrota tal como os heróis portugueses? No terço final da fita uma batalha ceifará a vida do Alferes e quando o guardião da memória começa a morrer, Dom Sebastião, o Encoberto, surge perante ele segurando o fio de sua espada com as mãos sangrando. O olhar fixo e belo de Sebastião fita o espectador-Cabrita e parece que se trata da presença do rei-mito que jamais retornará, mas sempre será o Desejado. Este filme que retoma Camões, mostrando inclusive o episódio da Ilha dos Amores dos Lusíadas, bem como Antônio Vieira, lembra-nos que o desejo de poder é fonte de glória e miséria e que se existe uma verdade da história, ela é o bater de seu vento nas asas da humanidade, que é varrida para o esquecimento se não lançar-se no esforço contínuo de restaurar a si mesma por meio da rememoração. Para Oliveira, o anjo de Paul Klee não seria a história a reunir os destroços, mas a humanidade que é carregada pelo vento do tempo.
O princípio humanista de Oliveira e sua cultura erudita fazem-se na mais épica e medieval cena de derrota já filmada: Dom Afonso avança numa batalha na qual não esteve, Alcácer-Quivir, e vê uma cena convencional de morte e destroços humanos. Um soldado ferido levanta-se da morte e começa a declamar o poderoso texto de Antônio Vieira, uma machucadura retornada dos mortos, vinda de um tempo antigo num aparição ardente num filme do século XX. Non ou a vã glória de mandar torna-se assim um amálgama de tempos em conflito: o dos mortos que sumiram, mas deixaram suas palavras como legado; o do presente que pode retomar as falas dos mortos; o do futuro, que se tenta reorientar a partir deste presente espelhado no passado; além de todos os outros tempos que se queira tomar. Neste momento as imagens-palavras incendeiam e não custa trazer este lindo e aterrador texto de volta: “Terrível palavra é um Non. Não tem direito nem avesso. Por qualquer lado que o tomeis sempre soa e diz o mesmo. Lêde-o do princípio para o fim ou do fim para o princípio, sempre Non. Quando a vara de Moisés se converteu naquela serpente tão feroz que fugiu para que não o mordesse, logo perdeu a figura, a ferocidade e a peçonha. O Non não é assim. Por qualquer parte que o tomeis sempre é serpente, sempre morde, sempre fere, sempre leva o veneno consigo. Mata a esperança, que é o último remédio que a natureza deixou a todos os males. Não há correctivo que o modere, nem arte que o abrande, nem lisonja que o adoce. Por mais que o confeiteis um Non sempre amarga. Por mais que o doreis sempre é de ferro”.
No final, percebemos que Cabrita morre no dia da Revolução dos Cravos. Oliveira pergunta, incômodo, se não teria sido este momento de quebra com Salazar mais um episódio de derrota (ou vitória) nos destroços deixados pelo tempo.
Sobrevive, enfim, a primeira imagem do filme, o plano travelling de mais de 2 minutos de uma alta e frondosa árvore angolana que é exibida de um ponto de vista de um barco num rio. A árvore é, como em toda grande história, uma Árvore do Mundo ou uma Árvore da Vida, uma ponte entre céu e terra que encaminha o homem no rumo do conhecer sua glória e miséria. Antoine de Baecque afirmou que esta árvore é uma forma cinematográfica da história, um momento de ardência da história. Eu diria que é um momento de retorno no tempo, por todas as Árvores do Mundo que ela espelha.
Toda árvore toma do sol pelas folhas e recebe as chuvas de galhos abertos. Ela resiste como imagem viva dos elos entre sonhos e enraizamentos. Junto a ela, o poderoso olhar de Sebastião encarando Cabrita (o espectador) nos lembra que o conhecimento bebido da fonte da vida (a árvore e o sangue) é a certeza da morte – e a necessidade da memória. Lembrar é trazer o passado, o nosso e o dos outros. Mostrar o passado é juntar novamente imagem e palavra na memória para refazer o espírito do homem.
Hannah Arendt, o filme
Seria isto um homem? Não seria o demônio? Esta é uma pergunta existencial que está na base da reflexão imposta por Hannah Arendt em “Banalidade do Mal”, a maior reportagem que já li. Mas o que Arendt respondeu parece ter sido macabro, uma vez que devolveu a questão na forma de um espelho a partir do algoz, e não da vítima, como fizera Primo Levi. Mais: ela fez questão de transformar um problema que parecia dever algo ao diabólico (o nazismo) e o transformou em sintoma de certa mundanidade cotidiana. Do demônio, passou-se ao homem. Ou essa é a leitura de Margareth Von Trotta no filme Hannah Arendt (Alemanha/Luxemburgo/França, 2012), fita que acompanha a montagem de sua reportagem-reflexão e a repercussão do texto sobre o julgamento de Eichmann, o famoso despachador de judeus, em Jerusalém, após seu sequestro (ilegal) na Argentina.
Tanto o filme como o próprio livro deixam claro que Eichmann não está sendo julgado pelo que fez, mas pelo peso dos acontecimentos históricos como um todo. O fardo que ele carregava chamou a atenção de Arendt. A consciência de que seu sequestro por Israel, a recusa do país em submetê-lo a um tribunal internacional, a ‘ilegalidade’ jurídica da situação, alicerçada numa moralidade e justiça ancestral, tudo isso apenas realçava a mediocridade de Eichmann, que era, segundo a pensadora, incapaz de pensar, ou seja: de ter uma consciência mínima de si próprio enquanto ser ético e responsável pelo que acontecia com os milhões de mortos. Frente o fardo da história aquele homem surgia menor, um burocrata pequeno e insosso, e, por isso, era um sinal assustador de um novo estágio de maldade ainda nunca vista. Eichmann mostrava que a modernidade era um tempo no qual o que havia de pior podia ser feito sem qualquer impacto na consciência humana, por uma aparente alienação pessoal e social que não estava, necessariamente ligada ao ódio, mas à indiferença. Eichmann seria “qualquer um” que fugira da sua responsabilidade de ajuizar a si próprio na cadeia da história.
Ora, se o processo de desumanização e despojamento de humanidade pelo totalitarismo estava no coração da reflexão da pensadora em “Origens do Totalitarismo”, o encontro com Adolf Eichmann parece tê-la lançado numa espiral de reflexão na qual a mediocridade do oficial nazista, naquilo que tinha de ordinário e comum, era o que podia haver de pior. A fita, porém, não se satisfaz com isso: ela contrapõe o burocrata à própria Arendt, que é incapaz de deixar de pensar. Eichmann, mostrado sempre com cenas de um documentário da época, contrapõe-se à força impressionante e arrogante da própria Arendt, vivida como uma potência humana na maravilhosa atuação de Bárbara Sokuwa. A mulher trazia admiração e incômodo por sua inteligência, segurança e consciência absoluta de que era uma filósofa com funções sociais definidas. Ela deveria fazer rodar o pensamento e, naquele caso específico, alertar as pessoas para que a se diferença entre vítima e algoz era abissal, não se podia negar os aspectos mais assustadores da banalização do mal, aos quais, não cabia, como queria a ortodoxia judia, transformar em metafísica demoníaca.
A Arendt de Hannah Arendt era mulher poderosa, apaixonada por Heidegger, sua amante, que nunca conseguiu, claramente, resolver o problema de como alguém que parecia ter rompido os laços com o mundano para produzir um dos pensamentos mais originais da história, poderia ter se deixado seduzir pelo encantamento enebriante do nazismo. A fita acaba sendo muito bonita e respeitosa com essa relação, mostrando um homem tão impressionante como mundano em suas paixões e contradições. Aqui está um trunfo dramático da fita: apontar semelhanças na flagrante diferença ao contrapor um Eichmann/burocrata incapaz de pensar e tolo, mas capaz de participar de um mal absoluto, e, o maior filósofo alemão vivo, dono do pensamento e incapaz de posicionar-se, igualmente levado pelo êxtase alienante do nazismo.
Arendt nos é mostrada estupefata, no sentido filosófico e emocional, com essa contradição. Ela quer entender, como afirma categoricamente ao próprio Heidegger, num dado momento. Entender significa mais do que compactar com o direito de justiça e vingança israelita. Exatamente por isso, os poucos minutos de fita dados a Eichmann e a Heidegger são o núcleo pelo qual o espectador cria e aumenta sua impressão sobre Hannah, que, com seu marido parece ser o único ser de pensamento independente na trama. Pessoa contraditória e arrogante, humana e titânica, insensível e frágil a um só tempo na pele, postura, rosto e voz de Sukowa.
Por isso Arendt não agradou nem aos gregos nem aos troianos. As vítimas sobreviventes e seus simpatizantes ficaram irritados com a crueza com a qual transformou o demônio em homem, reduziu-o à banalidade maléfica. Todos ficaram irritados, acima de tudo, com a enunciação de algo até hoje problemático: o erro (para dizer o mínimo) das lideranças judias ao se posicionar equivocadamente frente ao avanço do nazismo. Desagradou, em alguma medida, a todos, porque, em parte, ‘resolveu ‘ (ou apostou), no fato de que o nazismo não nasceu (apenas) de uma neurose coletiva extática e racista, mas na perda ou no abandono da capacidade humana de pensar eticamente.
Claro que tal impressão é uma problematização filosófica da questão. E exatamente por isso, um problema. É esta uma das impressões que o filme Hannah Arendt nos deixa. A polêmica sobre seu livro atingiu o meio intelectual mundial e americano, em particular: amigos romperam com ela, brigaram, todo sentimento de inferioridade americana frente à “inteligência” europeia que ela representava, bem como os laços com o Heidegger antissemita, foram retomados e lançados contra a pensadora. O filme é particularmente sutil, porém, com as manifestações de misoginia frente à força de Arendt, mas é possível perceber como também incomodava por ser mulher.
Esquemático, Hannah Arendt cumpre uma das mais raras funções filosóficas num meio que, nos últimos anos, não tem se proposto muito a isso (o cinema). O filme faz pensar ao cativar o espectador para a tentativa de pensar com a personagem, de entender o que fora de fato que acontecera quando um burocrata, aparentemente sem traços identificáveis de antissemitismo, fora responsável por milhões de mortos. De certa forma, também esquematicamente, a fita reduziu os algozes de Hannah, às vezes, a meros incapazes de fazerem a viagem de pensamento que o espectador está fazendo ao ver a fita. Talvez essa seja uma falha (histórica?): a fita olha o passado após os anos de fortuna crítica sobre os temas tratados e sobre a própria filósofa. No final, fica-nos evidente que o problema era uma memória de terror, um trauma, ao qual era (ainda é) muito difícil de enfrentar como uma reflexão filosófica.
Eichmann em Jerusalém fora um livro que entregou a humanidade infeliz do algoz, o que, para o desejo de justiça judeu, só podia soar como antissemitismo. Como dissera outro filósofo, numa das mais extraordinárias frases que já li: “toda história do sofrimento humana clama por vingança”. Arendt parecia querer tirar o direito de vingança que era também um ato de justiça. Ao apontar a banalidade do mal de Eichmann, ao despojá-lo da aura diabólica, também despojou a justiça israelense de sua sacralidade, ou assim parece ter soado. Mas como afirma sua grande amiga Mary McCarthy no filme, vivida com grande carisma por Janet McTeer, Hannh é, acima de tudo, uma mulher corajosa.
Fica-nos um filme simples e bom, lento e contemplativo, parcial e importante. Mais um acréscimo no acerto de contas da memória cinematográfica com a memória da Shoah, a qual, claro, parece muito longe de terminar. Estes milhões de mortos assombrarão para sempre enquanto tudo que lhes aconteceu disser respeito a todos nós que nos pensamos, como Hannah, como humanidade.
Maus ou Esforço no nada?
Como pensar a miséria humana? Como compreender o genocídio? Na verdade o genocídio judeu foi apenas um dos muitos crimes de assassinato em massa na história recente do ser humano. Entre outras diferenças dele para os outros genocídios, está o fato de foi perpetrado no coração da Europa, o centro civilizatório do mundo, e por uma de suas civilizações mais orgulhosas, a alemã. A escala da destruição fora sem paralelo pela gerência metódica em que uma estrutura de morte criada permitia que a mortandade ocorresse em níveis até então inauditos. Compreender o genocídio é, em si, um esforço quase desumano se tomarmos como referência nossos valores de que deveria haver uma ética na perpetração da dor, sofrimento e morte numa escala monumental. No caso da guerra, o choque entre lados inimigos facilita a crueldade e a estupidez, mas a marca do genocídio judeu, voltado contra um “inimigo” interno e caçado, que estava evitando o choque, torna tudo mais impressionante.
A leitura de Maus, de Art Spiegelman, clássico dos quadrinhos dos anos 1980, e que mostra e representa o relato da vida de Vladek Spiegelman, pai do artista gráfico, é instigante para pensar uma questão que parece querer sempre beirar o impensável. Na serie é retratada as conversas de Art com seu pai, bem como a vida nos campos de concentração e extermínio pelos quais passara Vladek. Num dos momentos da serie, o personagem de Art retoma uma célebre frase de Beckett “Toda palavra é como uma mácula desnecessária no silêncio e no nada”. Logo em seguida, após uma pausa silenciosa com seu analista, ele retoma “Por outro lado, ele FALOU isso.” De maneira que Maus é um esforço. Para que? Para tantas coisas…
Creio que a principal é um acerto de contas entre um filho e um pai dificílimo retratado em toda a sua humanidade e insuportabilidade, um homem que fora capaz de sobreviver ao impossível. Talvez o traço mais emocionante seja justamente o esforço de, pela rememoração do pai, fazer uma história que era um presente sincero de um filho, também ele difícil, para que este possa seguir o seu caminho. Matar o pai, no sentido psicanalítico era necessário, mas, no sentido humano, tratava-se de reencontrá-lo e aceitar suas imperfeições como espelho das dele. Não é por acaso que a coisa que mais impressiona na serie inteira é que Vladek não se incomoda de contar e reviver tudo. Num lindo momento, ele afirma que tentara esquecer tudo e que apenas a insistência do filho o tinha feito rememorar. Vladek queria seu filho por perto e aceitou sofrer a dor da lembrança…
Ainda assim a sobrevivência o horror nazista é um tema difícil. Veja-se, portanto, o esforço difícil do texto de Spiegelman: por mais que não se possa compreender Auschwitz (e Vladek afirma isso em muitos momentos no quadrinho), é preciso dizer. A incompreensão e a irrepresentação, contudo, são históricas. Hoje, temos sido cada vez mais assediados com a ideia de que não é possível compreender ou representar o holocausto, de maneira que o esforço desnecessário de contar de novo é a única coisa que se pode fazer contra o horror do passado. Mas mesmo essa ideia é muito ortodoxa, apontando para como é difícil enfrentar que tipo de humanos somos nós: civilizados e bárbaros como nenhum bárbaro é capaz. Afinal fora no centro da civilização, de forma industrial e técnica que fora cumprida o assassinato em massa. Ora, também ocorreu em Ruanda, mais recentemente, não do mesmo jeito, mas com a mesma vontade de morte. Seja na Europa ou na África o ser humano pode ser horrendo.
Maus é muitíssimo emocionante. Cada vez que a leitura avança, fica mais assustadora. Você sabe que Vladek sobrevive, você sabe que milhões morrem e morrerão no decorrer da série, e que Vladek será sua testemunha, mas ainda assim a certeza do horror vivido transformado em narrativa, continua alimentando a expectativa para que algo possa sobreviver. Fiquei sinceramente incomodado com a estória, pelo seu roteiro e crueza. O desenho nada tão bom de Spiegelman revela-se ideal para caracterizar a trama: judeus representados como ratos, poloneses como porcos, americanos como cachorros, franceses como sapos, etc. Uma alegoria trivial da animalização do ser humano, na qual, como diz Vladek “Impressionante um ser humano reagir no mesmo jeito que o cão do vizinho” (quando atingido por balas e agoniza). A perda da humanidade é o traço mais reforçado na série. Perda que dói ao leitor, para quem os desenhos vão ficando cada vez mais opressores. Quando finalmente vemos os ratos agonizando no gás, nada poderia ser tão assustador.
O esforço por ainda “dizer no nada”, porém, revela mais do que a simples ideia de que não é possível compreender Auschwitz. Maus gera compreensão ao demonstrar como o horror nazista foi o resultado final e radical do terror racial. A especificação do horror e da indústria da morte e a partilha de concepções raciais entre alemães e judeus (as vítimas são racistas como os algozes) é um sinal de que havia um problema enorme para quem o limite ético tornou-se uma ilusão. A exclusão do humano pelo terror racial tornou-se algo que apodreceu todos, mas no caso dos alemães criou uma aversão com requintes de crueldade extrema.
Qualquer ser humano dotado da capacidade da empatia entenderá algumas ideias minímas desse quadrinho como um esforço necessário de dizer algo no silêncio. Mas, de fato, haveria um silêncio? Não me parece ser hoje o caso. As conversas entre Art e seu pai começaram a ser gravadas no final dos anos 1970, quando os sobreviventes dos campos nazistas passaram a morrer de velhice, doença, loucura ou suicídio. O próprio Vladek morrera em 1982, pouco depois de terminar de contar sua horrenda e extraordinária saga ao filho. Quando Maus terminou de ser publicada, em 1991, o holocausto, desde 1985, com o filme de Claude Lanzman, jé era definitivamente pensado como Shoah (calamidade) e uma indústria cinematográfica se formaria tendo o “evento” como um de seus tópicos principais, culminando no Oscar de A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, em 1994. De lá para cá, não apenas a visibilidade como a visualidade do terror racial nazista atingiu todas as mídias. Não há como não saber o que ocorreu.
As narrativas dos testemunhos e suas recriações sempre usam um princípio de perplexidade para tentar enfrentar um tema tão assustador como preemente. Ficar perplexo deve ser a reação padrão para algo da ordem do genocídio. Mas ficar estupefacto não pode ser suficiente, pois contra todas as teses da banalidade do mal, é justamente a maneira como o mal pode ter se tornado tão banal num determinado momento da história que deve ser colocado em questão. A compreensão deve ser um esforço contra a sensação de nada que o sofrimento das vítimas parece denunciar. Afinal, foi justamente o fato de não ter ocorrido no nada, mas na vida prática, no cotidiano de uma sociedade racialmente formada, que inferiorizava por meio de animalização, infantilização e purificação, coisas que acontecem com sutileza no dia a dia de muitas pessoas no mundo atual, que deve estar sempre o alertar: devemos continuar a nos surpreender, mas também a vigiar ao nosso redor, pois o veneno está em nossos corações e nem percebemos. Sejamos algozes ou vítimas.
Rafael Sanzio e a astrologia
Mais apaixonado do que nunca pelo Renascimento, fiquei hoje pensando sobre uma passagem de A Cultura do Renascimento na Itália, de Jacob Burckhardt. Nela o célebre historiador do XIX escrevia sobre a sobrevivência da astrologia, o que para ele era uma clara permanência do obscurantismo medievalista, contraditório com o espírito humanista, que segundo o próprio, estaria na base da formação do desenvolvimento do indivíduo e da descoberta do mundo e do homem. Parando para fazer uma afirmação sobre a pintura de Rafael Sanzio afirma o seguinte:
“A astrologia permaneceu na moda em maior ou menor escala, mas parece ter deixado de governar a vida humana na forma que o fizera anteriormente. Arte da pintura, que no século XV fizera o possível para alimentar o engodo, agora expressava diferente modo de pensar. Rafael, na cúpula da Cappella Chigi, representa os deuses dos diferentes planetas e o firmamento estrelado, observados, porém, e guiados por belas figuras angelicais, e recebendo do alto, as bençãos do Pai Eterno” (p. 319).
Aqui está uma interpretação corrente sobre o Renascimento que fora forte até pelo menos a década de 1960, quando pesquisas mais condensadas de historiadores como Paul Kristeller, Eugenio Garin e Frances Yates, entre outros, começaram a propor que mais do que sobrevivências obscuras, a astrologia fora um aspecto fulcral da formação do indivíduo e do espírito moderno. Na verdade a menção e a interpretação de Burckhardt estariam enganadas. A Cappella Chigi fora encomendada pelo rico banqueiro de Siena, Agostino Chigi, com quem Rafael teria sido amigo. Ela uma parte do mausóleo da família Chigi na igreja de Santa Maria del Popolo, e fora projetada e com muitos afrescos pelo pintor em 1513. A cúpula mencionada por Burckhardt possui um mosaico que fora executado pelo veneziano Luigi de Pace, com desenhos de Rafael.
A cúpula possui no centro a figura de Deus criador, rodeado pelos setes planetas que estão representados nas figuras dos deuses olímpicos. Não se trata, tal como pareceu ao historiador novecentista, dos deuses dos planetas, mas dos próprios planetas, regidos por um anjo. Pelo que tenho visto existe uma interpretação forte que atribui ao mosaico uma influência neoplatônico que remeteria contudo a cosmogonia medieval contida na Comédia de Dante, da qual, remodelado contudo, a partir da tradição neoplatônica. Particularmente interessante é fato de que Chigi ser de Siena, cidade onde se sabe que a tradição hermética misturada com a Cabala fora muito forte. A tradição neoplatônica fora combinada com o hermetismo, uma vez que o próprio Corpus Hermeticum fora traduzido na década de 1460 por Marsilio Ficino, influente mago-filósofo da Toscana e sediado em Firenze, antes mesmo deste traduzir os diálogos platônicos.
A presença de elementos astrais nos textos herméticos combinavam-se as sobrevivências astrológicas e na releitura seja de Ficino, seja de Pico della Mirandola, quando este combinou o hermetismo com a cabala. Frances Yates mostra como isso implicou uma nova abertura e uma redefinição das imagens astrais que a partir da Toscana atingiram a Itália. Não podemos esquecer que Hermes Trismegistos, que teria escrito o Corpus Hermenticum, figura no piso da Catedral de Siena, demonstrando a penetração que teve esta tradição ocultista na cidade de Chigi.
Cúpula da Cappella Chigi. Imagem de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Roma-santa_maria_del_popolo.jpg
Para completar a relação que queremos imaginar, em 1513 o papa Leão X assume no Vaticano, e entre outros, feitos, está sua promoção da astrologia a cátedra universitária no ano de 1520. Por tudo afirmado (e isto poderia ser esclarecido se tivesse paciência de ir buscar informações em biografias de Rafael), parece-me que em vez de um declínio da astrologia, o moscaico da Cappella Chigi indica sim um “novo modo de pensar” como disse Burckhardt, mas que, em vez de ser sinal de decadência, demonstra o novo significado das imagens astrais na Itália Renascentista. Em vez de submetidas ao mundo cristão, elas se tornam componentes do próprio cristianismo, não mais como sobrevivência, mas como uma forma nova de astrologia ou “magia natural” na qual os astros são potências de acesso a Deus e não partes das engrenagens cósmicas medievais das quais as estrelas seriam componentes.
O céu medieval era crivado de demônios, enquanto o céu astrológico do século XVI era repleto de almas que poderiam ter seus bons auspícios invocados a partir de imagens criadas na Terra. A invocação dos planetas a partir das imagens dos deuses antigos era um sinal de sua nova funcionalidade. Rafael, correspondendo a um interesse de composição, pintava a nova vida de uma astrologia híbrida em sua época. O humanismo era grande porque também era astral, e, não apesar de ser astral.
BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália. Brasília: Editora da UnB, 1991.
Paixão hermética
“O Homem, que possuía pleno poder sobre o mundo ods seres mortais e animais, inclinou-se sobre a armadura das esferas, depois de passar por seus invólucrops, e mostrou à Natureza abaixo a bela forma de Deus. Ao ver que havia nele a beleza inexaurível e toda a energia dos Governadores, aliada à forma de Deus, a natureza sorriu com amor, pois havia visto a forma maravilhosamente bela do Homem, refletida na água, e na terra, sua sombra. E ele, tendo visto essa forma semelhante à sua na Natureza, refletida na água, amou-a e quis estar com ela. No momento em que o desejou, ele o realizou, e habitou a forma irracional. Então, a Natureza, tendo recebido seu amado, abraçou-o e uniram-se, pois ardiam de amor”
Hermes Trismegistos
(TRISMEGISTO (traduzido por Marsilio Ficino) apud YATES, Frances. Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Rio de Janeiro: Cultrix, 1987, p. 35-36.
Apaixonado pelas tradições culturais ocidentais que sempre foram centrais, mas que foram eclipsadas pelos modelos epistemológicos hegemônicas. Um traço do saber indiciário que o Ginzburg afirma que antecedeu a Galileu. Muito próximo (mas diferente) do pensamento selvagem de Levi-Strauss, mas, acima de tudo, próximo de todos os modelos de filosofia natural que permearam o ocidente e se irmanaram e brigaram com todas as formas de filosofia e mitos não-ocidental encontradas na atualidade.
Mais uma linda descoberta feita a partir dos trabalhos realizados pelos historiadores da tradição Aby Warburg. Como adoro os trabalhos da “Grande Dama” Yates.
Muito tratada em finais nos anos 1960 e nos anos 1970, fez parte das ondas esotéricas que varreram o Mundo Ocidental, desesperado com o desencantamento do mundo. Ponto para a síntese linda que Jorge Ben fez em Tábua de Esmeralda:
“Prometheus” e os fantasmas coloniais?
1. Numa noite longa num aeroporto chato estou a pensar sobre astrologia, desejo e céu. Nada como cinema para tentar organizar um pouco as minhas impressões. No avião no caminho de Fortaleza pensei sobre como o céu mudou de sentido, embora pouco se perceba sua mudança de aspecto. Mudaram as imagens associados a ele. Estava justamente lendo sobre como, segundo a astrologia do século XVI, o céu era a perfeição. Mas algo mudou e Prometheus, o novo filme de Ridley Scott permite ver isso em suas ambiguidades.
O filme é deslumbrante. Sua arte visual, enquadramento e competência narrativa são inegáveis. É o melhor filme de Scott desde o Telma e Louise. Não que Scott seja de fato um gênio, ele é um bom narrador, mas realizou apenas dois grandes filmes, dos quais retoma o primeiro, Alien, de 1979, neste novo. A retomada dialoga com uma tradição de cinema e com a riqueza iconológica do século XX.
2. A premissa do filme de 1979 era original: um monstro que quase não se via, que tinha uma boca dentro de outra e sangue ácido, com uma aparência memorável, que nascia depois de ser chocado como uma larva no corpo de uma pessoa no qual se hospedara e que, claro, matava. Não só: retomava a questão da inteligência artificial, ensaiada por Kubrick em 2001 e mais tarde desenvolvida em Blade Runner pelo próprio Scott. Silencioso, o monstro invadia como um verme corrosivo ao qual ninguém poderia socorrer, pois “no espaço, ninguém podia ouvir você gritar”. Num futuro distante o encontro com o estrangeiro era marcado pela destruição do “eu” por dentro. Scott e sua equipe forjaram a mais involuntária metáfora do encontro com o outro, que se gera no próprio “eu” e destrói aquele que o nutriu. O germe entra como invasor, hospeda-se e destrói aquele que o nutre. Seria afinal esta uma metáfora improvável do etnocentrismo próprio do homem ocidental em sua versão americana?
Da minha parte o medo e o horror são maiores pelo monstro que transforma em mãe/pai os homens nos quais cresce, numa solidão extrema frente à morte. As metáforas subsistem…
3. Prometheus retoma a origem do monstro, mas desloca o encontro com o estrangeiro extremo (o extraterrestre) pela revisão do mito bíblico segundo o qual o homem teria sido criado a imagem e semelhança de Deus. Numa das muitas histórias sobre a busca de Deus para enfrentar a dúvida da origem e solucionar a morte, a fita mostra a tripulação da nave com nome do deus grego que fora punido por dar o conhecimento divino aos homens. Seu objetivo é encontrar os “engenheiros”, os prováveis criadores do homem num passado longínquo. Numa lua distante, os homens do futuro encontram escombros de uma civilização perdida que acreditam extinta. Encontram também um composto terrível que altera estruturas genéticas nos seres que com ela entram em contato e a partir do qual novas espécies com gestação parasitárias podem ser geradas. Apenas David, o robô com aparência humana consegue compreender os habitantes.
A fascinação e o medo seguem-se ao encontro de estruturas fantásticas e cadáveres dos habitantes locais. Logo os aliens são identificados, de fato, como criadores dos humanos, mas o ambíguo David, o androide ,tenta desenvolver o que os engenheiros fizeram. No final, um destes engenheiros ainda está vivo, escapa do confinamento de milhares de anos e decide cumprir uma missão que fora adiada dois mil anos antes: levar o composto devastador para a Terra. Fica claro que os criadores queriam destruir a criatura, tal qual Iavé o fizera no mito do Gênesis.
O encontro com o criador é assustador: nele o homem descobre a si mesmo, no sentido de que se reconhece uma espécie bélica que cria humanos para depois os destruir por meios genocidas. Os deuses são iguais aos homens e olhar Deus no céu é como encontrar o abismo à sua imagem e semelhança. O sentido da vida é tão só o arbitrário militar num engenho de destruição. No final, a única sobrevivente (uma mulher, como na fita de 1979), justamente aquela que pariu o ancestral do alien da série cinematográfica original, decide encontrar os criadores. Ela entende que estavam numa base militar avançada e que haveria um Paraíso de origem dos engenheiros ao qual se poderia chegar. Agora ela deseja ir até lá para saber porque os homens foram criados e por que os criadores decidiram destruí-los.
4. Aqui um desvio de rota é importante, pois, no mito bíblico a evidência da culpa pelo dilúvio é absolutamente inescapável. Deus devia punir os homens que corromperam a Terra. Mas não são os homens os responsáveis pelo horror biológico que os “engenheiros” fizeram, uma vez que em Prometheus, o criador é tão pior que a criatura. Inocentes de seu próprio genocídio, os homens merecem saber o por que de se tornarem descartáveis. Agora são os deuses que nos devem explicações.
Sintoma de um novo mundo, no qual o reconhecimento da humanidade do divino é cada vez mais acentuado. A ficção de Scott, contudo, continua o investimento do Céu como uma fronteira do horror, habitado por demônios devastadores com vontade de desejo de destruir o homem. O Céu já fora habitado por demônios no período medieval quando os astros eram forças perigosas que só podiam ser movidas pelo mago demoníaco, mas o Céu não era habitado por estrangeiros, como a nossas imagens de cinema parecem sugerir.
Se Alien (e antes dele Invasores de Corpos, Guerra dos Mundos e congêneres) começou a lançar os estrangeiros no firmamento, apropriando perigosas mitologias fundadas na ficção científica novecentista do qual Guerra dos Mundos de Wells é uma matriz fundamental, este Prometheus segue também a linha de 2001 e Solaris, na tentativa de encontrar o mistério do universo e da origem. Não por acaso os dois filmes são explicitamente citados: 2001 na primeira cena com Sol e Planeta alinhados tal qual como no clássico de Kubrick ou no próprio David, o novo Hall 9000; e a fita de Tarkovsky na cena da Elizabeth Shawn andando pelos corredores da nave após “parir” a primeira larva.
Agora combinam-se as duas grandes tendências de habitar o céu com demônios e deuses numa só versão de encontro com o criador como a semelhança nada divina das criaturas. Na pior variação celeste/terrestre, agora criados pelos estrangeiros, somos objeto de seu desejo de destruição. No fim do fim, mais uma metáfora involuntária na qual vivemos os fantasmas coloniais que criamos de nós mesmos, elaborados a partir do olhar persecutório e neurótico americano. No espaço ninguém nos ouve gritar o medo de que o outro pode ser nossa própria origem – e nos odiar.
visualidade e visual studies ou como repensar meus horizontes teóricos
Atingido por mais uma de minhas indagações teóricas, repentinamente acho uma nova tradição, que é muito velha, na qual sem querer me filiei. Estava a pensar sobre a nova moda dos visual studies e sua recente propagação no Brasil. Assintido aula no ano passado de um professor de Pernambuco da comunicação o vi subscrever uma idéia que se tornou comum no Brasil ao reproduzir as perspectivas de Nicholas Mirzoeff, Joseph Mitchell e alguns outros estudiosos que os estudos visuais são uma ramificação do estudos culturais que institucionalizaram o estudo da visualidade nas academias ocidentais. Essa mesma idéia é defendida de forma difusa num texto interessantíssimo de Paulo Knauss.
Tal perspectiva causou-me estranhamento quando pensando minha própria relação com os estudos de imagens, ficava claro que a origem de minhas impressões sobre o visualidade tinham outra origem. Parei e pensei: quais origens? De certa forma ela era oblíqua pois se fazia tanto por leituras contemporâneas de pessoas como Jonathan Crary como de Ernest Gombrich, e não dessa vertente dos visual studies, que imperialistamente (não no sentido político) parecemn querer estabelecer um novo marco zero para os estudos de imagens dentro de um pretenso novo paradigma. Pensando mais um pouco minha formação remetia a outra matrizes as quais posso vulgarmente relacionar em torno de 3 horizontes: a) historiográfico, marcado pelos interesses da história das mentalidades e imaginário que não problematizavam o visual ou a imagem, mas forneciam novas direções; b) a teoria do cinema, que de Eisenstein, Vertov e Metz me conduziam a Gilles Deleuze e André Parente; c) finalmente a obra de Carlo Ginzburg que me serviu de porta para a história da arte no legado de Aby Warbug.
Explorando as duas últimas vertentes os estudos de, fica claro que embora não esteja denominado por este nome, a teoria do cinema desde Eisenstein constrói idéias sobre visualidades e explora seus limites. Mesmo suas ramificações mais obsessivamente paranóicas como os estudos do dispositivos à Baudry sobre influência de Althusser demonstram essa perspectiva. Aliás, como coloca Jacques Aumont a idéia de dispositivo relacionava “a imagem com seu modo de produção e com seu modo de consumo”, mostrando como a “técnica de produção das imagens” repercute nas apropriações destas. Eis uma das matrizes e um dos legados dessa fase desconstrucionista que repercute diretamente nos estudos visuais – não é a toa que em The Visual Culture Reader, Mirzoeff reservou um pedaço do seu calhaço aos antecedentes (não apenas desconstrucionistas) dos estudos visuais com trechos de Marx, Foucault, Althusser, etc.
Assim da teoria do cinema teve um impacto fundamental pois me permitiu rever o mundo enquanto imagem cinematográfica. O mais curioso é que a tradição da teoria do cinema dialoga com a filosofia há muito mais tempo e por isso as incrementações e refinamento das análises por vezes são invejáveis.
Todavia foram os estudos da história da arte os que sedimentaram alguns outros conceitos e aos quais, sem perceber me alinhavei mais no quesito pensar o mundo em função da visualidade. Tendo como mestre de cerimônias iniciais a obra de Ginzburg, fui (re) conhecer Erwin Panofsky (que já havia lido bastante), Ernest Gombrich e tantos outros. Sem perceber muitas filiações, encaminhei-me na leitura de alguns dos que trabalharam a partir do legado do Instituto Warburg lendo nomes variados como Gombrich, Ginzburg, Panofsky, Michael Baxandall, Georges Didi-Huberman, além ampliando minhas próprias impressões e a partir deles revendo muitas posturas.
Embora deva muito também a um conhecimento difuso assumido em disciplinas com Iara Lins e Etienne Samain na UNICAMP no qual estudamos a significação e visualidade através dos estudos de Jean-Pierre Vernant, Jonathan Crary, Roland Barthes e alguns outros, de fato, foram os estudos da tradição Warburg que mais me conformação uma visão concisa de visualidade.
Pergunto-me agora sobre o significado disso tudo. A melhor conclusão a que cheguei é que por mais que os visual studies estejam adquirindo uma tradição, o pensar da visualidade e da cultura visual ainda é mais claro nas tradições (principalmente as do que chamo aqui de horizonte Warburg) nas quais me formei, mais pelo refinamento de suas reflexões e menos pela boa vontade ou amplitude teórica (que é vasta nos estudos visuais). Existe na verdade uma tradição de estudos visuais, na acepção contemporânea, nesse “horizonte Warburg” e que formou uma concepção anterior de visualidade que rivaliza com as formulações filosóficas que seguiram de Sartre, passando pelo panoptico de Michel Foucault, aos estudos que de Crary e Martin Jay que desembocaram nas atuais perpscetivas de Mirzoeff & Cia (Friedric Jameson explorou o tema num artigo interessante, embora algo prolixo demais).
Aqui deixo de fora propositalmente as obras capitais que pensaram conceitos importantes da imagem e visualidade como Walter Benjamin e Maurice Merleau-Ponty. Assim como não menciono a incrível variedade e tradição que as obras de Dudley Andrew, Jacques Aumont, David Bordwell, Raymond Bellour, Noel Carroll, Francesco Casseti, Kendall Walton e outros teóricos do cinema tem criado e que nada ou pouco devem aos visual studies.
Enfim, sinto-me devedor de mais fontes do que posso citar, mas que certamente criam novas persctivas sobre quais são as possibilidade de compreensão de visualidade e cultura visual que estão disponiveis no mercado das Academias contemporâneas.
me ajudem os santos das teorias
Se por um lado alguns estudos culturais são legais, a maioria é um porre. A teoria deles é mais chata ainda. Stuart Hall em especial é chato, Canclini também é chato, e estou me preparando para quando ler o Bhaba que deve ser mais chato ainda. Hall é esmagadoramente inteligente, mas chato. E diferente de Raymond Williams não é charmoso em sua escrita, sendo que também este um tantinho enfadonho.
O assunto é interessante mas as culturas híbridas, o multiculturalismo e o pós-colonial sofrem de enfado terrível e do mal de reificação de resultados já estabelecidos na teoria. As questões fulcrais que esses termos, conceitos e propostas levantam são tristemente mediadas pela repetição constante do fato de a condição multicultural em que vivemos, embaladas pelas circunstâncias atuais, levam a um novo patamar de conviviabilidade de diferenças.
E todas essas propostas quando nascem olham o passado e se projetam nele. Como o sujeito descentrado, fragmentado ou pós-moderno, vamos acabar chegando na conclusão que todas as sociedades sempre foram multiculturais (na verdade, já chegamos nessa conclusão), assim como sempre fomos pós-modernos, desde a época das sociedade primevas (o politicamente correto me pede que não fale em ‘primitivas’).
Tenho de ser guerreiro! Nunca temi teoria, mas raramente fui obrigado a ler teoria chata.
ai o marxismo
Como professor adoro imaginar possíveis disciplinas. Tive um ataque de nostalgia e quiz ministrar uma disciplina chamada “História e teoria cultural: os novos marxismos”. Não, não sou marxista, nunca o fui ou aspirei a me tornar um. Na verdade sinto pouco interesse emocional em Marx, embora o considere um clássico inescapável.
Meu interesse veio de minhas simples leituras das obras de Raymond Williams e Edward Thompson. Ai pensei que poderia montar uma disciplina para explorar os conceitos marxistas da cultura e assim estudá-los de forma ordenada. Na verdade ler Williams me cansa. Thompson me dá prazer pelas leves ironias e parcimônia que seus textos carregam. Mas ainda assim são referências. Além do que adoro as noções de “experiência” (Thompson) e “estrutura de sentimento” (Williams).
A disciplina poderia ser dividida assim: 1) trabalhariamos com conceitos chaves de cultura, modo de produção, ideologia – aqui leríamos Gramsci, Lukacs e Williams; 2) depois trabalhariamos com as idéias de dialogia e mediação – aqui leríamos Williams e Bakhtin; 3) finalmente leríamos propostas históricas de Michel Vovelle e Thompson para trabalharmos as noções de experiência e imaginário no espectro marxista.
Não seria lindo?! Um curso de teorias?!?!?!?! Sou louco. Tenho uma relação estética com a teoria.
…
Depois faria um curso sobre história e hermenêutica para ler Dilthey, Gadamer, Ricoeur e os revisores da hermeneutica como Koselleck e Gumbretch…
…
E depois ainda haveria outro curso para história e teoria da imagem. Este seria o ápice! E depois outros e outros e outros… ai ai ai…sonhos de alguém que se delicia com o pensamento.